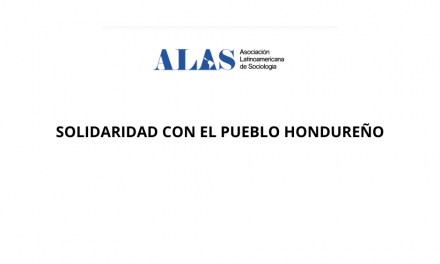Por que o Nordeste votou em Lula? A liberdade pelo trabalho social
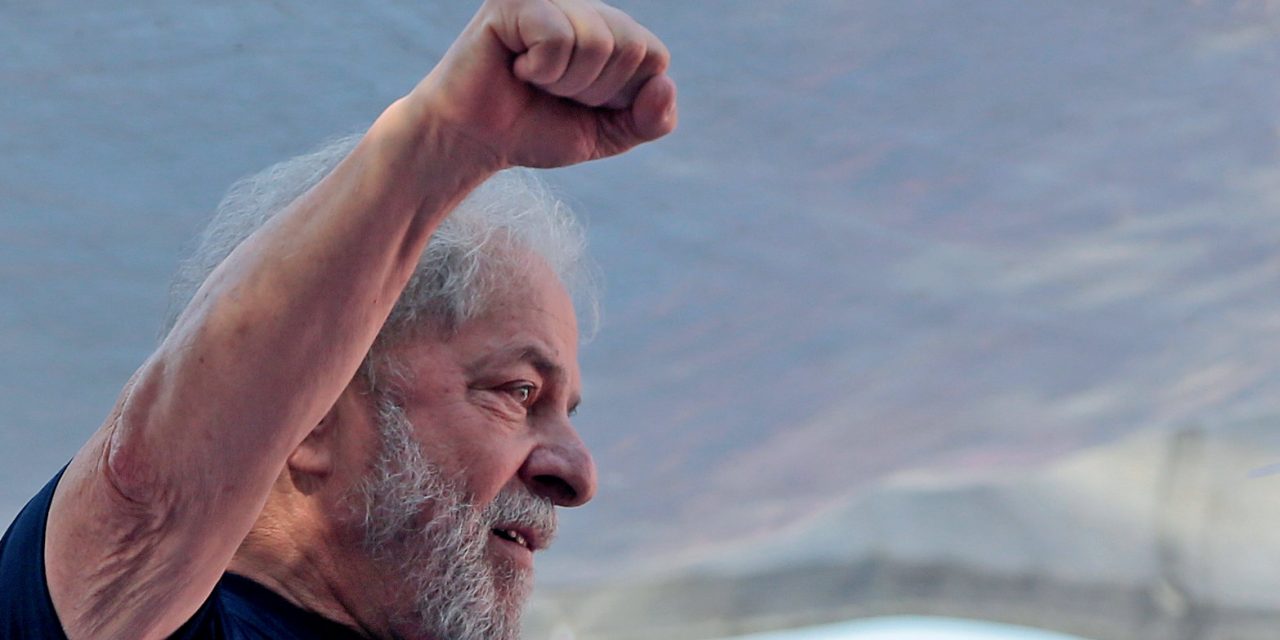
Por que o Nordeste votou em Lula?
A liberdade pelo trabalho social
Paulo Henrique Martins
Recife, 31 de outubro de 2022
Entre as grandes surpresas dos resultados do primeiro e segundo turnos das eleições presidenciais no Brasil neste ano de 2022, destacamos o fato de que o Nordeste definiu a vitória de Lula, compensando as derrotas relativas ocorridas em outras regiões do país. Muitos se perguntam sobre as razões desta performance vitoriosa de Lula numa região considerada empobrecida e que, hoje, tem ampla presença de igrejas neopentecostais nos meios urbanos e rurais que, teoricamente, poderiam neutralizar o petismo. O fato de Lula ser nordestino é uma boa resposta, considerando que o local de nascimento aparece como fator que ajuda a gerar identificação entre o candidato e o eleitor. Mas, neste contexto eleitoralmente tão volátil, esta explicação é insuficiente para decifrar o enigma. Basta lembrar que o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nascido no Rio de Janeiro, e sem tradição política na Paulicéia, teve uma votação surpreendente no primeiro e no segundo turnos, deixando para trás o leque de alianças formado por políticos tradicionais paulistas do PSDB, do PT e outros em torno de Fernando Haddad.
Então temos que buscar outros argumentos mais fortes para explicar a performance de Lula no Nordeste. No meu entender, o mistério se explica pela associação que os nordestinos mais humildes, sobretudo, fazem de Lula com a representação positiva de um homem trabalhador que valoriza o trabalho. Para os nordestinos, que guardam as memórias da vida rural, a ideia do trabalho é central na imaginação do mundo e na ação política. As ligas camponesas não surgiram nesta região por acaso. O trabalho simboliza dignidade, respeito social e esperança de uma vida melhor. O nordestino, em geral, não gosta de arruaceiros que, em vez de trabalhar, passam o dia gerando cizânia, bagunça e falando mal do vizinho. Então, há um embate no processo de individuação social entre aqueles que guardam boas memórias da liberdade pelo trabalho e aqueles outros, que querem ganhar a vida sem trabalhar ou tomando o que é dos outros para ter uma “boa vida”. O arruaceiro é associado a indivíduo que não teve boa educação familiar, que nunca estudou para ser alguém respeitado e admirado pela comunidade e que não gosta de viver o trabalho social e solidário. No outro lado do espelho, memórias, relatos e vivências do trabalho coletivo ajudam o trabalhador a organizar sua auto-imagem, mesmo quando ele está desempregado ou vivendo numa favela. Estas memórias e imagens se reproduzem no processo de individuação coletiva na sociedade complexa, mesmo que empobrecida, favorecendo uma individuação associativa, que tem a família e a vizinhança como dispositivos de mediação cultural e econômica.
Este tipo de individuação é diverso daquele outro que prosperou nos últimos tempos em outras regiões em cima da competição destrutiva e do consumo ostentatório. O individualismo narcisista que emerge nas ondas do neoliberalismo e das Fake News não tem relação com o processo de individuação histórica do liberalismo clássico. Esse último gerou estas duas figuras psicológicas: o individualismo narcisista e o individualismo associativo. Classicamente, o processo de individuação moderno emerge com a ética do trabalho e da poupança, como bem lembrado por Max Weber, e guardava um sentido de manutenção temporal do grupo primário. Mas o individualismo narcisista contemporâneo surge de uma bolha midiática e fantasmática que rompeu com a ideologia liberal e com a centralidade do trabalho atraído pelas ideologias diversionistas, desde final do século XX. Digamos que ele é sobrevivente de um “parque humano”, para lembrar de Sloterdijk no seu Regras para o parque humano (2018), que funciona pela destruição do humanismo tradicional. Ele sacrifica o potencial humanístico da vida associativa para gerar zoológicos humanos que apenas servem para um novo tipo de dominação que usa e abusa do misticismo religioso para entreter a “manada” (termo usado por Freud) que se imagina livre. Este processo gera pessoas morais dependentes que se escravizam nas legendas dos heróis, alienando-se com relação às condições práticas de produção da vida social.
No Nordeste, este arruaceiro-individualista é visto sob suspeita pelas comunidades locais. Nas minhas pesquisas de campo colhi muitos relatos de mães de família que reprovam os filhos que procuram comprar motos para consumo pessoal sem contribuir para a gestão coletiva da casa. Há inclusive casos mais dramáticos em que filhos e netos se apropriam das aposentadorias de mães e avós deixando-as à míngua. Estes tipos de situações geram desconfianças e quebram o valor do vínculo afetivo no grupo primário e na reprodução comunitária, que se centra tradicionalmente no trabalho coletivo. Em geral, são indivíduos que se fragilizam ao romper a solidariedade coletiva e que compensam a frustração da falta de sentido do viver pelas drogas e pela violência. Na medida em que destroem a referência simbólica da ancestralidade que assegurava o laço social, o individualista vai buscar outras referências míticas sendo presas fáceis de líderes carismáticos, fascistas ou populistas. A religião, não como experiência mas como transe coletivo, passa a ter forte apelo junto a estes indivíduos. Eles precisam sempre de alguém que lhes dê algo para fazer sentido na vida do consumo, ou que funcione como referência e razão de viver por ter rompido com os fundamentos da vida associativa. No meu entender, é contra esta situação degradante e fragilizadora dos vínculos sociais que se insurgiram os nordestinos, rejeitando o bolsonarismo nessas eleições presidenciais.
Vou relatar, aqui, algumas opiniões sobre o assunto que nos ajudam a compreender o contexto, que me foram dadas por Isaias (nome fictício) que há 30 anos é guardador de carro no estacionamento de Humanidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Questionado por mim sobre a quem ele iria dar seu voto no segundo turno, sabendo que ele e família são crentes de uma igreja neopentecostal, Isaias me respondeu: “Bom dia, professor. Parece que fizeram lavagem cerebral na mente das pessoas a ponto de elas não entenderem a verdade. Minha família, graças a Deus, vota em Lula. Não é questão de Lula, é questão de trabalho. O partido é dos trabalhadores. Nós somos trabalhadores e devemos votar em quem zela por isso. Nunca via antes um presidente como Lula. Lula levantou o Brasil quando o país estava se afundando”. E ele comentou igualmente sobre a candidatura de Bolsonaro. “Os bolsonaristas estão sempre querendo levar vantagem e cada vez mais ricos. Muitas pessoas estão iludidas, até pobres que têm que zelar por quem trabalha. Ele (Bolsonaro) cortou muitas coisas. Até direito do pobre ter um sindicato, que era a força que o povo tinha para lutar por seus direitos”. E sobre as tensões na Igreja ele diz: “estão querendo obrigar a gente a votar neles (nos bolsonaristas). Estão dividindo as famílias. Gente da mesma família brigando um com o outro. Mas a gente sabe em quem devemos votar”. O depoimento de Isaias é bem representativo da opinião dos trabalhadores nordestinos em geral, independentemente de estarem ligados à produção ou ao setor de serviços.
O assunto oferece elementos para pensarmos no lugar do trabalho em geral, e do trabalho manual, em particular, numa sociedade como a brasileira que vem conhecendo ampla desindustrialização há vários anos, com crescimento paralelo de setores rentistas e extrativistas. Os especialistas acadêmicos têm certas restrições com relação ao trabalho manual por considerar que ele é fonte de exploração pelo capitalista. Mas o próprio Marx sociólogo reconhece que a superação da exploração pelo trabalho criativo é fundamental na medida em que o salário assegura as condições de autonomia do trabalhador e de sua família. Penso que os investimentos recentes nas lutas identitárias consideravam a possibilidade de deslocamento do trabalho para a autenticidade de grupos sociais individualizados. Mas este deslocamento constitui um erro por contribuir para desvalorizar o trabalho social e comunitário que é fundamental para as populações precarizadas. Aqui, vemos as dificuldades das classes médias individualizadas de entender que o universalismo da democracia depende da associação entre individuação responsável e compromisso com a produção de esferas públicas participativas.
O fato é que o surgimento de uma sociedade do entretenimento e do consumo supérfluo tem contribuído para um empreendedorismo narcisista que não converge necessariamente para promover a pacificação social, comunitária e política. Isto tem significado a diminuição dos trabalhadores na produção e o número de pessoas que vivem de atividades especulativas ou que ganham sem trabalhar, sem “suar a camisa” como se diz no ditado popular. De fato, o Estado brasileiro vem deixando de funcionar como um agente que investe na modernização econômica e social para subsidiar a especulação e o rentismo. Ele se torna um dispositivo político e burocrático voltado para assegurar a exploração extrativista sem compromissos com a organização de uma sociedade inspirada no bem-estar social que assegura a vida democrática. Se analisamos os bolsonaristas, ricos ou pobres, vemos que muitos não gostam de investir na disciplina e no trabalho especializado que favoreça a experiência do estar e viver juntos. Por isso, há uma atração muito grande por parte destes ditos empreendedores individualistas (caminhoneiros, influencers, pequenos comerciantes, especuladores de bolsas de valores etc.) por narrativas que garantam uma certa segurança emocional. Isto num mundo fragmentado que acirra a competitividade destrutiva para valorizar a meritocracia, que ressalta a superioridade (étnica e técnica) dos mais capazes e competentes. Dadas as dificuldades dos indivíduos sobreviverem num mercado hostil que se reproduz por uma pirâmide meritocrática, eles se sentem atraídos pela proteção social do Estado não como política social, mas como tábua salva-vidas.
Gera-se uma situação esquizofrênica no meio bolsonarista: por um lado, o mercado tem o discurso da meritocracia e do individualismo antissocial; por outro, é crescente o número de indivíduos que buscam cargos na administração pública para sobreviver num mundo de ameaças radicais. São indivíduos que vivem de recursos gerados pelo setor público e pelas empresas estatais e/ou pelas rendas arrecadadas pelo tesouro nacional, tentando defender um discurso contraditoriamente anti-estatista para agradar o pastor de rebanhos. A família Bolsonaro e seus seguidores mais diretos vivem também de recursos públicos que são extraídos diretamente ou indiretamente por intermédio de cargos públicos, por agências de publicidade, redes virtuais e favores diversos com doação de dinheiro público. Isto comprova a tese de presença de amplos setores parasitários dos bens estatais e públicos que atuam contra o mundo do trabalho.
Num lado do cenário, os banqueiros (muitos deles falsos lulistas) que querem manter o Banco Central no cativeiro para poderem extrair melhor os juros de empréstimos que eles mesmo definem os valores; o agronegócio que busca impor um Estado que subsidie as exportações e que impeça manifestações de trabalhadores nos espaços rurais; os novos acionistas da Petrobras ligados ao sistema financeiro de Wall Street querem extrair o máximo de lucros da empresa sem considerar sua função social como empresa brasileira. Os políticos, por sua vez, querem continuar a controlar o orçamento público para atender suas clientelas. Os pastores das igrejas “bolsonaristas” querem esvaziar as funções ministeriais para melhor gerenciarem os recursos do Estado e promoverem diretamente políticas públicas de saúde, educação e trabalho nos respectivos territórios de ação político-religiosa nas cidades e bairros (Este é um modelo que lembra muito certos países do Oriente Médio, como o Egito, em que as igrejas islâmicas organizam as políticas públicas em grandes cidades como Cairo, e em que o Estado laico tem sua ação limitada à segurança nacional). No outro lado do espectro social, vemos a luta famigerada pela sobrevivência de indivíduos abandonados pela sociedade, de empreendedores individualistas frustrados e ameaçados pelo mercado e a classe média empobrecida. Mas também de trabalhadores que acionam suas memórias para promover a utopia da esperança.
Este é o quadro do Brasil atual. Corremos o risco de perdermos nossa autonomia como país para se tornar um entreposto voltado para exportação de matérias-primas e importador de manufaturados, reiterando uma “vocação” que vem do período colonial. O pior é que a deterioração das condições de sobrevivência e o envio maciço de informações saturadas desorganiza a psique coletiva e diminui a consciência coletiva. Freud, no seu Psicologia da massa e análise do Eu, escrito nos anos vinte do século passado, explica que: “o contágio é um fenômeno cuja presença é fácil de estabelecer e difícil de explicar. Deve ser classificado entre aqueles fenômenos de ordem hipnótica que logo estudaremos. Num grupo, todo sentimento e todo ato são contagiosos, e contagiosos em tal grau, que o indivíduo prontamente sacrifica seu interesse pessoal ao interesse coletivo”.
Esta vivência hipnótica de grupo não é certamente aquela do liberalismo político que defendia o avanço da racionalidade cognitiva e moral como ferramentas da cidadania individualizada que se legitima nos direitos republicanos. O que vemos aqui são grupos precarizados por razões diversas (econômicas, políticas, psicológicas) que ficam prisioneiros de bolhas de poder que fragmentam a experiência real para gerar narrativas hipnóticas que aprisionam ideologicamente os indivíduos e suprimem suas capacidade de pensar o mundo. O discurso religioso que rompe com a tradição do protestantismo clássico aparece como recurso oportunista para assegurar este tipo de padrão de poder que gera a subordinação dos rebanhos ao autoritarismo mercantilista. Esse discurso religioso oportunista garante a passividade de grupos de indivíduos dominados pela dor e pela frustração, de modo a assegurar a dominação econômica, política e religiosa de caráter oligárquico.
Acontece que este tipo de modelo de sociedade dependente num contexto de 215 milhões de habitantes não pode dar certo. Mesmo um pequeno departamento norte-americano no Caribe como Porto Rico conhece a infelicidade de não ter independência como as demais ilhas da região. A população desta ilha reclama muito do fato de ser tida como cidadãos norte-americanos de segunda classe. A questão social no Brasil é muito grave e somente pode ser resolvida por um amplo pacto voltado para resgatar a centralidade do trabalho. Por isso, Lula é o símbolo da liberdade pelo trabalho social. Ele é a memória de lutas democráticas que são necessárias para superar a esquizofrenia social e comunitária reproduzida por plataformas virtuais que fragmentam as memórias políticas e reproduzem a pós-verdade.
Então os motivos que levam os nordestinos pobres a votarem, contribuindo de modo decidido para eleger Lula como candidato vitorioso são extremamente pertinentes não somente para os que habitam a região, mas para todos os brasileiros. Todos nós precisamos nos perguntar sobre o país que queremos. País de arruaceiros ou país de trabalhadores? Um país dependente do capitalismo rentista internacional associado a grandes oligarquias agrárias? ou um país soberano que valorize o trabalho como valor universal necessário para organizar a cidadania e a democracia? Os resultados das eleições revelam as motivações dos nordestinos com um projeto de revalorização do trabalho pela terra ou outras modalidades criativas que promovam a dignidade e o respeito coletivo. Não é muita coisa quando pensamos a ideia de uma democracia participativa e plural, mas é um bom começo através da promessa de resgatar o caráter emancipatório de um saber coletivo que pode gerar riquezas para a coletividade.

Paulo Henrique Martins é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ex-presidente da Associação Latino-Americana em Sociologia (ALAS) e livre-pesquisador parceiro do Ateliê de Humanidades. Autor de Itinerários do dom: teoria e sentimento e Teoria crítica da colonialidade, ambos pelo Ateliê de Humanidades Editorial.